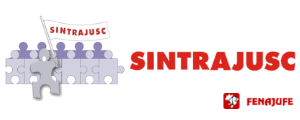“Flogging a dead horse” (literalmente, “atiçando cavalo morto”) não é apenas o título de uma coletânea da lendária banda punk inglesa Sex Pistols. Significa insistir em algo que não dá resultado. Pois foi com essa expressão que Kate Bayliss – da Universidade de Greenwich, Inglaterra – e Tim Kessler – pesquisador no México do Centro Internacional de Pobreza do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) – definiram o processo de privatização dos serviços públicos no que se refere ao combate à pobreza e à desigualdade.
No estudo “A privatização e a comercialização dos serviços públicos podem ajudar a cumprir os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODMs)? Uma avaliação”, divulgado recentemente pelo próprio Pnud, Kate e Kessler dissecam os resultados do processo de reformas baseadas no mercado que tomaram conta do continente a partir do início dos anos 90. A avaliação deles sobre a privatização e a comercialização dos serviços de saúde, educação, energia e água – que têm relação direta com os ODMs da Organização das Nações Unidas (ONU) – é rigorosa: “A despeito de anos de esforço, a privatização falhou no preenchimento de lacunas na prestação de serviços básicos nos países em desenvolvimento”. E segue: “Enquanto algumas dessas reformas aumentaram a performance financeira, a adoção de modelos baseados no mercado colocou – em diferentes níveis – a ênfase de uma política que busca atender exigências de agentes do setor privado e desviou a atenção da ampliação de acesso e do atendimento das necessidades dos pobres”. Entre 1995 e 2004, mais de 70% do investimento em infra-estrutura do setor privado em todos os países em desenvolvimento foram para as telecomunicações e menos de 3% foram para serviços de água e coleta de esgoto.
O discurso de que o acesso aos serviços públicos seria ampliado em virtude da “melhora da eficiência e da imunidade em relação aos interesses políticos” proporcionadas pelas privatizações também é desmentido pelos pesquisadores. Para atrair investidores privados, o Estado foi forçado a conceder uma gama de “pré-requisitos” – infra-estrutura instalada, ambiente físico seguro, mão-de-obra capacitada, além de tributos favoráveis e arranjos contratuais que minimizaram ou até eliminaram os riscos comerciais.
“Empresas privadas são tão avessas ao risco que requerem garantias explícitas para lucratividade de longo prazo”, coloca o estudo, que relaciona a variedade de medidas requisitadas – subsídios em dinheiro, subvenções, redução tributária, contribuição direta de capital e outros tipos de garantias que acabaram na conta dos governos ou dos cidadãos. Fixados em moeda estrangeira, alguns acordos de garantia de venda de 100% da energia para empresas privadas praticamente eliminaram o risco comercial, colocando em risco a economia interna. “As conseqüências de políticas pró-investidores podem ter sérias implicações na estabilidade fiscal que, ironicamente, foi uma das justificativas originais para a privatização propriamente dita”. O estudo adverte, portanto, que “a proteção contra riscos (para proteger investidores privados) pode custar mais caro (a todos)”.
A capacidade de regulação também merece destaque no documento. “Investidores privados precisam estar certos de que a regulação governamental não negará oportunidade de lucrar”, apresenta. E como o nível de informações entre as empresas reguladas e as agências reguladoras muitas vezes era assimétrico, os governos foram encurralados numa “sinuca de bico”: ou autorizavam, de forma bastante temerária, as condições de ganhos econômicos colocadas pelas empresas ou negavam as solicitações, quebrando, assim, o clima favorável aos investimentos. O processo de privatizações, na maioria dos casos, veio descolado do desenvolvimento de agências reguladoras preparadas para fazer o controle, a fiscalização e a cobrança de resultados. Só órgãos fortes têm condições de negociar preço e qualidade (realistas, satisfatórios e razoáveis) – de acordo a realidade de cada país.
Associada às reformas de mercado, a propalada competição também não promoveu o atendimento prometido aos mais necessitados. Primeiro porque a “competição não emerge espontaneamente da privatização”. Os serviços de utilidade pública de abastecimento de água e ligação de energia elétrica são monopólios naturais e não estão sujeitos à competição mercadológica. O setor privado de água, aliás, é um dos mais concentrados do mundo. Apenas duas empresas comerciais dominam mais da metade do provimento privado de água do mundo.
Defensores das privatizações sempre apresentam a saúde como uma área em que a competição pode melhorar a eficiência dos serviços, mas a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) atesta que não há evidência de que as populações de baixa renda tenham sido beneficiadas com a participação privada. Fato é que os investimentos privados foram “apáticos” com relação ao desenvolvimento de remédios para tratar doenças que afetam fundamentalmente os pobres, como a malária e a tuberculose.
“O foco das reformas de mercado têm sido a eficiência operativa dos serviços de utilidade pública, não os seus impactos redistributivos”, adicionam Kate e Kessler, para os quais os “investimentos estão abaixo do nível requerido para cumprir os ODMs”. O estudo cita até o pronunciamento de um especialista de privatizações do Banco Mundial (link) sobre a questão. “Para os mais pobres dos pobres (…), a velocidade com que os indicadores de acesso têm se dado (com a privatização) de tal maneira que muitos deles ainda não foram incluídos em planos de investimento de serviços de utilidades públicas…”.
As cobranças pelos serviços – que poderiam melhorar o grau de sustentabilidade econômica e, por conseqüência, elevar a qualidade e ampliar o acesso aos excluídos – também não deram resultados. Na prática, a taxação imposta por empresas privatizadas acabou com o subsídio cruzado patrocinado pelo Estado – o lucro dos serviços prestados nas áreas de telecomunicações e energia eram utilizados para cobrir ‘perdas’ no segmento de água e saneamento básico. Resumidamente, as empresas que dão lucros foram transferidas para o setor privado e as que dão prejuízo continuam sob a alça do Estado. Esse fenômeno saltou aos olhos do experiente e saudoso jornalista Aloysio Biondi, em trecho do livro “O Brasil Privatizado”. “Não há mais tratamento especial para a população mais pobre. Tudo para garantir maior lucro aos ‘compradores’. Tratamento que as estatais não receberam”.
Tampouco a aplicação do argumento pró-privatização do “poder do consumidor” se mostrou verdadeira. Restrita a setores competitivos, a regulação pelo mercado para serviços essenciais sucumbiu diante do problema central: a falta de condição mínima dos excluídos para consumir. Os investimentos privados se concentraram, em geral, nas regiões de maior renda. Foram formadas ilhas de prestação de serviço, envoltas por uma espécie de “anel com cercas”, que atendem perímetros abonados. Empresas alegam despudoradamente que os próprios consumidores não podem pagar para que o serviço seja expandido. Em 2002, 20% das conexões de água na Costa do Marfim da empresa Sodeci jaziam solenemente na maior inatividade. Em KwaZulu Natal, na África do Sul, as taxas proibitivas foram determinantes para a ocorrência de um surto de casos fatais de cólera. A pesquisa do Centro Internacional de Pobreza do Pnud evidencia, entretanto, que a lógica inversa pode ser comprovada: casos de remoção de qualquer tipo de cobrança têm contribuído significativamente para a redução da pobreza.
A pesquisa também identificou um “padrão de comportamento” que tenta interferir na avaliação desse tipo de negócio. Os próprios governos promoveram aumentos bruscos dos preços dos serviços antes de venderem as estatais – tanto para atrair o setor privado sublinhando os possíveis ganhos como para que depois as próprias empresas pudessem reduzi-los para dar uma idéia de “ganho” e justificar a privatização. No Brasil, não foi diferente. “Antes das privatizações, o governo já havia começado a aumentar as tarifas alucinadamente, para assim garantir imensos lucros aos ‘compradores’ – e sem que eles tivessem de enfrentar risco de protestos e indignação do consumidor”, conta Biondi em “O Brasil Privatizado”. Fornecedoras de energia elétrica, relata o livro, aumentaram tarifas em 150% – “ou ainda maiores para as famílias que ganham menos, vítimas de mudanças na política de cobrança de tarifas menores (por quilowatt gasto) nas contas de consumo mais baixo”. O mesmo comportamento foi registrado nas privatizações dos serviços de água de Buenos Aires, na Argentina, e em Manila, capital das Filipinas.
Duas categorias
“Talvez mais importante do que as suas fragilidades econômicas, a comercialização e a privatização reduzem a pressão social sobre líderes governamentais para assumir com seriedade a alocação eqüitativa de recursos orçamentários”, conclui o estudo do Pnud. Quando a classe média e os usuários comerciais optam por prestadores de serviços públicos fora do Estado, perdem qualquer interesse em manter contato com o Estado para fiscalizar o alcance e qualidade do atendimento público. Efeitos diretos podem ser notados sem nenhuma dificuldade na qualidade da educação. A precisão de outro documento importante sobre as políticas sociais no âmbito mundial, o relatório do Social Watch de 2003 sobre a situação na Costa Rica, soa quase universal: “a educação deixou de ser um mecanismo de ascensão social para se tornar em instrumento de status e exclusão”.
Com isso, as privatizações realocaram a exclusão social da política para o mercado. Mais uma vez, o trabalho dos pesquisadores e a obra de Biondi se cruzam. Em seu livro, cuja primeira edição foi publicada em abril de 1999, Biondi assevera: “(…) a sociedade brasileira perdeu completamente a noção – se é que tinha – de que as estatais não são empresas de propriedade do ‘governo’, que pode dispor delas a seu bel-prazer. Esqueceu-se de que o Estado é mero ‘gerente’ dos bens do patrimônio da sociedade, isto é, que as estatais sempre pertenceram a cada cidadão, portanto a todos os cidadãos, e não ao governo federal ou estadual. Essa falta de consciência coletiva, reforçada pelos meios de comunicação, repita-se, explica a indiferença com que a opinião pública viu o governo doar por 10 o que valia 100”.
Um dos desafios apontados pelo estudo do órgão ligado à ONU consiste justamente no que é definido como “engajamento cívico”. Não faltam obstáculos para a participação da sociedade: exclusão social, ausência de processos públicos institucionalizados, informação e capacidade insuficientes, dominação política das elites e oposição de grupos que buscam lucros com negócios privados envolvendo serviços outrora públicos. Para tanto, os autores defendem três linhas de ação: transparência (não necessariamente com volume de informação, mas com a divulgação de dados acessíveis para cidadãos comuns), processos inclusivos (adoção gradual de fóruns e consultas abertas a despeito do aumento de custos) e capacitação (conhecimento técnico e expertise em políticas públicas).
De acordo com a avaliação feita pela pesquisa do Pnud, o combate à pobreza por meio de investimentos em infra-estrutura (que normalmente tem retorno negativo pelo menos pelo período dos primeiros seis anos) depende da atuação do setor público que “deve claramente definir os serviços públicos essenciais que tem obrigação de prestar e, paralelamente, com a mobilização de recursos domésticos e externos, ofertar serviços de caráter universal de forma progressiva”.
Fonte: Agência Carta Maior