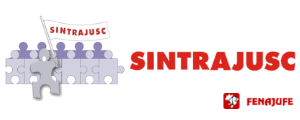Enquanto os países em desenvolvimento ficaram com os louros desta última reunião de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), os ricos levaram a bronca e os muito pobres foram mais uma vez ignorados. Para o Fundo, as reformas estruturais nos países em desenvolvimento avançaram satisfatoriamente, mas precisam ser aprofundadas para garantir um desenvolvimento sustentável. Já o tratamento em relação aos países ricos – principalmente Estados Unidos, Europa e Japão – este ano foi diferente. O FMI reclamou do gigantesco déficit comercial americano e do desenvolvimento “preguiçoso” da Europa e do Japão. Mas a bronca foi modesta. Como quem teme a reação da vítima, o FMI levantou a voz, mas não bateu.
Um dos principais riscos para a economia mundial apontado pelo FMI é o atual déficit em conta corrente dos Estados Unidos – que inclui o balanço de mercadorias, de serviços e de transferências unilaterais – superior a U$ 600 bilhões. Mesmo com a depreciação de 6% do dólar, desde setembro, barateando as exportações americanas, as contas externas do país continuam demasiadamente desequilibradas. Esta é a maior relação dívida/PIB alcançada na história dos Estados Unidos, cerca de 5,8% do PIB.
O déficit da balança comercial americana começou a se avolumar mais acentuadamente no final dos anos 90, primeiro com a administração do presidente Bill Clinton e, agora, com a de George W. Bush. O Secretário de Tesouro americano, John Snow, justificou através de seu porta-voz Rob Nichols: “este quadro é uma afirmação de que nós estamos crescendo mais rapidamente que nossos parceiros comerciais por dois pontos percentuais. Nós precisamos que eles que eles avancem rumo ao crescimento e comprem nossos produtos”.
A dependência dos mercados asiáticos
O Fundo lançou um alerta às autoridades norte-americanas: os EUA não podem depender tanto de financiamento da China, do Japão e de outros países asiáticos. Este modelo de financiamento aumenta a vulnerabilidade do país e passa a ser um fator de risco tanto para o equilíbrio econômico doméstico quanto para o global. A principal causa para o desequilíbrio das contas externas dos Estados Unidos é a relação comercial com a China. Se fosse descontado o déficit que o país tem apenas com o gigante asiático, o valor do déficit fiscal americano, em 2004, cairia cerca de 27%.
O diretor de pesquisas e economista-chefe do FMI, Raghuran Rajan, diz que “o governo americano promete reduzir o déficit em conta corrente, mas não apresenta uma proposta clara de como fazê-lo”. Desta forma, as tentativas de ajuste acabam ficando por conta da alta de juros, pois somente quando o cidadão americano começa a sentir no bolso a alta no custo da manutenção de seu padrão de consumo é que ele começa a economizar dinheiro.
O problema deste modelo é que a pressão sobre os juros provocada pela necessidade de conter o consumo doméstico, somada a pressões inflacionárias – acentuadas pela volatilidade do preço do petróleo –, poderia resultar em uma alta aguda da taxa de juro norte-americana, com efeitos negativos para as economias emergentes.
FMI quer que “todos façam a sua parte”
Para reduzir o déficit fiscal, os Estados Unidos precisam conter seus gastos domésticos e aumentar sua pauta de exportações. Mas para isso, é necessário que outros países também revejam suas políticas de comércio exterior. O Fundo deu a bronca, mas concordou com os Estados Unidos: Europa e Japão precisam retomar o crescimento e estimular suas exportações, aumentando o fluxo de mercadorias para o país. As previsões de expansão na zona do euro não deve ultrapassar 1,6% e 2,3%, neste ano e no próximo. Já o Japão, que começa a recuperar-se de uma década de estagnação, deve acelerar o crescimento de 0,8% em 2005 para 1,9% em 2006.
O Fundo demonstrou um profundo desapontamento com os atuais níveis de crescimento destes países e disse que para que a economia seja aquecida é fundamental o aprofundamento de reformas trabalhistas nos países europeus, principalmente no que se refere à diminuição da jornada de trabalho. Para Rajan é impossível que no mundo de hoje existam países “tentando espremer 24 horas de trabalho em um dia, enquanto que a Europa tenta esticar 35 horas de trabalho em uma semana”. “Com o atual crescimento, a Europa não conseguirá manter seu padrão de bem-estar social”, completou.
A crítica do FMI foi feita com ironia. Rajan disse esses países sabem que precisam fazer a sua parte, mas agem como Santo Agostinho, que dizia: “senhor dá-me a castidade, mas não agora”. Mas a avaliação do Fundo de que um incremento nas exportações da Europa e Japão aliado com uma mudança na política cambial na China poderiam dar conta do déficit americano é muito otimista. Se estes países tivessem, por exemplo, crescido dois pontos percentuais a mais anualmente durante os últimos cinco anos, o déficit comercial dos EUA estaria apenas de U$ 45 bilhões a U$ 60 bilhões menor. Ou seja, ainda estaria em níveis estratosféricos, passando dos U$ 600 bilhões.
Portanto, para ajustar este desequilíbrio não há outra saída: o dólar terá que cair. E é claro que este ajuste terá efeito para os países em desenvolvimento, cujo destino das exportações segue prioritariamente para os Estados Unidos. O fim das cotas globais de têxteis, em janeiro, também significa que a China irá tomar o lugar de muitos países em desenvolvimento, que anteriormente tinham algum espaço reservado no mercado dos Estados Unidos e outros países industrializados, na pauta de importações americanas.
Os respingos do estouro da bolha
Outro risco para a economia global, em especial para a América Latina, é o fato de haver uma bolha no mercado imobiliário dos EUA. Mas este parece ser um tema evitado pelo FMI. Em abril de 2004, o Fundo Monetário havia incluído em seu relatório Panorama Econômico Mundial, uma seção inteira dedicada ao assunto. Seis meses depois, na edição seguinte do mesmo relatório, o Fundo tentou se redimir das considerações sobre a bolha americana dizendo que não havia necessariamente uma bolha. No relatório deste ano, apenas algumas frases mencionam o risco de aumento dos preços de casas nos Estados Unidos.
É interessante notar que o FMI coloca o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos como um dos principais riscos para a economia mundial, mas não diz que, caso isso venha a acontecer, este será o principal fator a desencadear o rompimento da bolha no mercado de casas. A partir do momento que os financiamentos das casas ficarem mais caros, os americanos deixarão de comprar tantas casas e o valor desses imóveis irá cair consideravelmente, estourando a bolha. As consequências serão as velhas conhecidas: possível recessão, desemprego e inflação, o que teria efeitos negativos para a América Latina, já que dois terços das exportações da região seguem para o mercado norte-americano.
Quando questionado sobre quais seriam as conseqüências do rompimento da bolha no mercado de casas nos Estados Unidos para as exportações da América Latina, Anoop Singh, diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, preferiu deixar a resposta por conta do colega Christopher Towe, conselheiro do mesmo Departamento.
O economista admitiu que o mercado de casas nos Estados Unidos está inflacionado e que o avanço acelerado dos preços de casas representa um risco tanto para a economia americana quanto para a de outros países industrializados. “Eu não poderia especular em detalhes quais seriam as conseqüências, mas, certamente, na medida em que os preços das casas e de ativos em geral têm sido um fator chave para explicar o boom de consumo nos EUA, qualquer diminuição da inflação no mercado de casas dentro dos EUA, e também em outros países, teria certamente consequências negativas para o consumo pessoal nos países industrializados, o que provavelmente se espalharia pelo resto do mundo”, disse. Mas quanto aos impactos sobre as exportações da América Latina, Towe se limitou a dizer que “talvez os setores de matérias primas sejam afetados”.
G7 tem pressa em tratar da dívida, mas só em julho
Os países muito pobres foram mais uma vez ignorados em sua reivindicação de alívio da dívida. Desde a última reunião do G7, em fevereiro, a vice-diretora do Fundo Monetário, Anne Krueger, já havia anunciado o interesse dos países ricos em tratar do assunto com urgência. A grande expectativa era que durante esta reunião do G7, que aconteceu paralelamente à reunião de primavera do FMI e Bird, os países ricos chegassem a um acordo em relação à proposta de financiamento da dívida externa dos países altamente endividados.
Mas o Secretário de Tesouro americano, John Snow, jogou um balde de água fria nas esperanças dos países mais pobres de verem o problema solucionado: não aceitou a proposta da Inglaterra de venda dos estoques de ouro do Fundo como forma de financiamento da dívida e disse que é preciso “mais tempo para avaliar outras propostas”. Ou seja, todos concordam que o problema precisa ser tratado com urgência, mas a promessa de resolução acaba sendo adiada de reunião à reunião.
Fonte: Agência Carta Maior