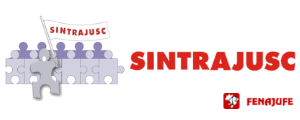Por Waldir José Rampinelli – Professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina – Fonte: IELA
04.05.2009 – Nos arredores de Boston, em uma lápide no parque nacional se lê a inscrição: “Aqui jaz uma mulher índia, uma wampanoag, cuja família e tribo entregaram suas vidas e suas terras para que esta grande nação pudesse nascer e prosperar”. Muitos cidadãos estadunidenses, gente decente e bem intencionada – diz Noam Chomsky –, desfilam continuamente junto a esta tumba, lendo o epitáfio sem exibir a mínima reação, quando não um sentimento de satisfação pela homenagem prestada a esta pobre gente. Provavelmente não fariam o mesmo diante de um Auschwitz ou um Dachau, tanto que o Dia Anual de Lembrança do Holocausto é um evento nacional nos Estados Unidos. Sete grandes museus se espalham pelo país recordando o massacre nazista e nenhum sobre a escravidão capitalista. O genocídio dos nativos – cuja população girava em torno de 12 a 15 milhões de pessoas por volta de 1492 – se estendeu mais tarde aos negros, sem esquecer a opressão e a exploração da classe dominante aos brancos pobres, às mulheres e às crianças. Por sua vez, com o expansionismo externo, os Estados Unidos não apenas conquistaram 55% do território mexicano, como também se apoderaram de domínios e ilhas espanholas, obrigaram a França a vender a Luisiânia e impuseram, baseados em suas mais diversas doutrinas (Monroe e Destino Manifesto), uma hegemonia sobre a América Latina. Deste modo eles foram se expandindo e contando a sua história como uma grande saga e uma grande aventura de um grande povo[1].
O historiador Howard Zinn mostra em “A outra história dos Estados Unidos”[2] – ainda sem tradução para o Brasil –, a história que não é ensinada nas escolas e universidades e tampouco escrita nos livros e revistas. “Se a história tem que ser criativa – para assim antecipar um possível futuro sem negar o passado – deveria, creio eu, se centrar nas novas possibilidades baseando-se no descobrimento dos fatos esquecidos do passado, nos quais, ainda que seja só em breves pinceladas, as pessoas mostraram uma capacidade para a resistência, para a unidade e, ocasionalmente, para a vitória”[3]. Ao se referir à Declaração de Independência redigida por Thomas Jefferson e proclamada em 4 de julho de 1776, afirma que, embora ela enunciasse “que todos os homens são criados iguais, que seu Criador lhes dá certos direitos inalienáveis, entre outros o da Vida, o da Liberdade e o da Felicidade”, ocorreu, no entanto, que uma grande maioria dos estadunidenses foi claramente excluída destas conquistas, como os índios, os negros, os brancos pobres e as mulheres. A estes foram oferecidas as aventuras e as recompensas do serviço militar para que lutassem por uma causa que talvez nunca sentiram como própria. Zinn fala da vitória final em 1781, em Yorktown, na Virginia, na qual os ingleses foram derrotados com a ajuda de um potente exército e frota francesa, bem como dos marginalizados da sociedade.
Persiste até hoje nos Estados Unidos uma verdadeira mitologia em relação aos Pais Fundadores da Pátria. Segundo Zinn, eles não buscavam um balanceamento de poder, mas sim um mecanismo que desse o total controle à classe dominante da época. “O certo é que não queriam um equilíbrio igualitário entre escravos e patrões, entre os sem terras e os latifundiários, entre os índios e os brancos” (p. 82). Os Fundadores não levaram em conta as mulheres, que significavam a metade da população. Elas nem sequer foram mencionadas na Declaração de Independência e estiveram ausentes da Constituição, sendo a parte invisível da nação.
Duas guerras civis
A Guerra Civil ou da Secessão (1861-1865), apresentada como a da abolição da escravidão, teve um objetivo fundamental, qual seja, o de transferir mais poder aos ricos do Norte, de modo especial aos monopólios. “Um governo assim”, afirma Zinn, “não aceitaria que fora uma revolta que pusera fim à escravidão. Só se acabaria com a escravidão em termos ditados pelos brancos, e somente quando o exigissem as necessidades políticas e econômicas da elite empresarial do Norte. Foi Abraham Lincoln quem combinou com toda a perfeição as necessidades do empresariado, a ambição do novo Partido Republicano e a retórica do humanismo”[4]. Uma vez libertos, os negros tiveram que se alistar no exército e na marinha. “Sem sua ajuda”, diz o historiador James McPherson, “o Norte não teria vencido a guerra da forma como o fez, e talvez, simplesmente, não a ganhasse”, menciona Zinn (p. 148). Lembro que às vésperas da Guerra Civil a escravidão já havia desaparecido em toda a América Latina, com exceção de Cuba (1886) e do Brasil (1888).
Na década de 1870, quando os negros começaram a se organizar para exigir os direitos civis, a oligarquia branca do sul usou de seu poder econômico preparando grupos racistas com práticas terroristas, como a Ku Klux Klan. “Aboliu-se a escravidão, porém foi substituída por uma espécie de peonagem. Não se resolveu a posição dos negros na sociedade, de modo que, cem anos depois, eles não desfrutavam de todos os direitos que, ao parecer, a guerra lhes havia prometido”.[5] No centenário da independência (1876), uma “Declaração Negra da Independência” denunciou o Partido Republicano, que antes havia merecido sua confiança na busca da liberdade, conclamando os votantes de cor a assumir uma posição política própria. A Declaração, entre outras coisas, dizia que o sistema atual “apresentou ao mundo o absurdo espetáculo de uma terrível guerra civil pela abolição da escravidão negra enquanto a maioria da população branca [os brancos pobres] – aquela que criou a riqueza da nação – se vê obrigada a sofrer uma escravidão muito mais dolorida e humilhante”[6]. O mais grave da guerra foi, talvez, o legado de ódio e amargura que sobreviveu à geração combatente, especialmente contra os negros. Quase cem anos depois, no começo de 1945, quando o Queen Mary zarpou carregado de soldados para a guerra na Europa, os negros foram postos na parte inferior do navio, perto das máquinas, enquanto os brancos respiravam o ar puro na escotilha.
A outra guerra civil é o termo utilizado por Zinn para analisar o aumento da luta de classes nos Estados Unidos ao longo de todo o século XIX, tema totalmente ausente dos livros de história (cap. 10). Juntamente com a industrialização aparecem os operários que vão incrementar o conflito capital versus trabalho. As greves são uma constante não apenas por salário, mas também por redução de jornada laboral e por direito à sindicalização. Em 1844, quatro anos antes do surgimento do Manifesto Comunista, saiu no Awl o seguinte texto:
A divisão da sociedade entre as classes produtivas e as não produtivas e a distribuição desigual do valor entre elas nos leva em seguida a outra distinção: a do capital e mão-de-obra […] a mão-de-obra agora se converte em mercadoria […] o capital e a mão-de-obra estão enfrentados[7].
Algumas categorias, como as feministas que se organizaram nos locais de trabalho, passaram a fazer greves exigindo não apenas salário igual para a mesma tarefa realizada, como também o fim da opressão sexual. Muitas delas se aliaram aos negros, enquanto certos sindicatos de trabalhadores brancos exigiam que os trabalhadores de cor criassem os próprios na luta pela desigualdade racial e de gênero.
A busca por uma sociedade mais justa – identificada como socialista – foi intensa no final do século XIX e principalmente no XX dentro dos Estados Unidos (cap. 13). Escritores famosos, como Upton Sinclair, Jack London, Theodore Dreiser, Frank Norris e outros, defendiam publicamente o socialismo ao mesmo tempo em que atacavam violentamente o capitalismo. Uma parcela dos trabalhadores, dando-se conta de que a raiz de sua miséria estava no sistema capitalista, começou a trabalhar por um novo tipo de sindicato. Em junho de 1905, na cidade de Chicago, cerca de duzentos socialistas, anarquistas e sindicalistas radicais de todas as partes dos Estados Unidos fundaram o Industrial Workers of the World (IWW), que faria um grande trabalho na organização de um sistema alternativo ao capitalismo. O IWW liderou greves, comandou marchas, organizou concentrações, criou grupos de estudos e divulgou publicações sendo sistematicamente atacado e perseguido pelo Estado. As mulheres socialistas, que formavam parte do movimento feminista, fizeram uma grande campanha pelo sufrágio universal e pela igualdade no casamento e na vida sexual. Margaret Sanger, no seu livro Woman and the new race, mencionado por Zinn (p. 254), afirmava que “nenhuma mulher pode considerar-se livre se não possui e controla seu próprio corpo. Nenhuma mulher pode se considerar livre até que possa escolher conscientemente se será mãe ou não”.
Embora as mulheres tenham conseguido o direito ao voto, apenas em 1920, após a aprovação da Décima Nona Emenda Constitucional, muitas delas, como Emma Goldman, tinham claro que apenas o sufrágio universal não as ajudaria na busca de sua emancipação. Era fundamental continuar a luta – dizia Goldman – reafirmando sua personalidade, tendo direito sobre seu corpo, negando-se a ter filhos a não ser que os deseje, recusando-se a ser uma empregada de Deus, do Estado, da sociedade, de seu marido, de sua família, enfim, fazendo sua vida mais simples, porém mais rica e profunda. Somente isto e não o voto libertará a mulher (p. 255).
A função do Estado
O Estado foi o grande propulsor do sistema capitalista nos Estados Unidos. Para isto criou toda uma estrutura que possibilitasse a existência de uma classe dominante que gerasse o lucro a partir do mecanismo da mais-valia explorando o trabalho dos imigrantes irlandeses, alemães, italianos, chineses e, finalmente, dos judeus e gregos. A Corte, o Congresso e o Executivo atuaram em perfeita consonância na consecução deste objetivo. Já em 1893, um juiz do Supremo Tribunal – David J. Brewer –, dirigindo-se ao Colégio de Advogados do estado de Nova York, dizia que “é uma lei invariável que a riqueza da comunidade esteja nas mãos de uns poucos” (sic). O governo, por sua vez simulando neutralidade para manter a ordem, foi servindo aos interesses dos ricos. O mesmo aconteceu com os partidos políticos, o Republicano e o Democrata. Um acordo entre os dois – que possibilitou a eleição de Rutherford Hayes, em 1877 – defendia que, ganhando um ou outro, já não haveria mudanças significativas na política nacional. Para Domhoff, há uma considerável semelhança entre os partidos, já que ambos são controlados pelas elites. Os dirigentes dos partidos apresentam apenas diferenças internas, ao passo que os partidários divergem por questões de classe e profissão. O Partido Republicano é controlado pelos grandes industriais e grandes banqueiros da classe superior[8], brancos, protestantes e anglo-saxões provenientes de famílias que se tornaram ricas e famosas entre a Guerra Civil e a grande depressão da década de 1930. Recruta seus integrantes nas classes dominantes locais como pequenos comerciantes, altos funcionários de escritórios, advogados, médicos, engenheiros, enfim, pessoas pertencentes à classe média alta. O Partido Democrata, por sua vez, é composto por elementos muito novos e, ao mesmo tempo, muito antigos da classe superior, incluindo aristocratas do sul e descendentes de ricos, obtendo seu apoio entre trabalhadores, funcionários médios de escritórios, intelectuais, escritores e artistas de classe média alta[9].
As universidades, muitas delas criadas a partir de doações de famílias ricas que inclusive lhe emprestavam o nome, não estimulavam a crítica. Pelo contrário, adestravam os professores e estudantes a serem leais ao sistema capitalista. Deste modo a classe superior tem não apenas o controle geral delas, mas também de seus objetivos no largo prazo. As próprias universidades subvencionadas por recursos públicos, portanto com maior liberdade pedagógica, trataram de imitar as privadas. “As famílias, as igrejas e as escolas” – diz C. Wright Mills – “se adaptam à vida moderna; os governos, os exércitos e as empresas a modelam, e, ao fazê-lo assim, convertem aquelas instituições menores em meios para seus fins”[10]. Mills mostra como as elites burocrática, econômica e militar se articulam em uma todo-poderosa dominação de classe.
O nacionalismo
O governo protegeu a indústria nacional de suas concorrentes estrangeiras, facilitou o surgimento dos monopólios, buscou mercados cativos para compra de matérias-primas e vendas de produtos manufaturados e lançou mão, principalmente no final do século XIX e início do XX, de estratégias como o pan-americanismo, o big tick, a diplomacia do dólar e a boa vizinhança para exercer sua dominação sobre a América Latina. Além disso, serviu-se do nacionalismo para se fortalecer diante de problemas internos e externos. O historiador Richard Hofstadter, no seu livro The american political tradition, pesquisou os principais líderes nacionais começando por Jefferson e Jackson, passando por Hoover e chegando a Theodore e Franklin Roosevelt; analisou republicanos, democratas, liberais e conservadores, chegando à conclusão de que “o alcance de visão […] dos principais partidos sempre foi determinado pelos horizontes da propriedade e da empresa […] pelas virtudes econômicas da cultura capitalista […] Essa cultura tem sido intensamente nacionalista” (p. 416).
As reformas de Roosevelt para salvar o capitalismo da grande crise foram importantes, mas não fundamentais. Na realidade, coube a Segunda Guerra Mundial a função de debilitar a velha militância trabalhista dos anos trinta, já que o conflito passou a gerar milhões de novos empregos com salários mais altos. O New Deal só havia reduzido o desemprego de 13 para 9 milhões de pessoas. Além disso, a guerra aumentou o patriotismo e a união de todas as classes para derrotar os inimigos externos, enfraquecendo assim a luta contra os monopólios internos e as greves locais por melhorias sociais. Em 1948, o Tratado de Ajuda Externa – conhecido como Plano Marshall – exigia dos que aceitassem a “cooperação” que comprassem produtos manufaturados dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que obrigavam as nações européias e suas colônias a se abrirem aos investidores estadunidenses sobre uma base de igualdade.
Zinn termina seu livro mostrando que o Vietnam foi a primeira grande derrota do império global estadunidense no pós-Segunda Guerra Mundial, o que se deveu à luta dos camponeses revolucionários e ao movimento de protestos dentro dos Estados Unidos. Analisa os novos movimentos de mulheres, negros, índios e carcereiros nos anos 1960 e 1970. Mostra como Watergate, com a saída de Nixon, deixou intacto o sistema, tanto que as multinacionais atuaram na queda de vários governos, principalmente na América Latina. Comenta o trabalho da Agência Central de Inteligência e da Comissão Trilateral, esta criada para favorecer a união entre Japão, Europa Ocidental e Estados Unidos na luta, não contra um comunismo monolítico, mas sim contra os movimentos revolucionários do Terceiro Mundo que questionavam o sistema capitalista. Não deixa de falar de Carter-Reagan-Bush e o consenso bi-partidista.
Sem dúvida trata-se de um grande livro para conhecer uma história que sempre nos foi contada de outra maneira. A obra foi escrita em poucos anos, mas o seu autor tem mais de vinte de pesquisa e ensino e tantos outros de participação em movimentos sociais. Só assim se consegue escrever A outra história dos Estados Unidos.
[1] CHOMSKY, Noam. La fabricación del consenso. Nexos, México, n. 97, p. 29, jan. 1986.
[2] ZINN, Howard. La otra historia de los Estados Unidos. 2 ed. México: Siglo XXI Editores, 2005.
[3] Ibidem, p. 21.
[4] Ibidem, p. 142.
[5] MOYANO PAHISSA, Angela et alii. EUA: sintesis de su historia I. México: Aliança Mexicana, vol. 8, 1988, p. 467.
[6] ZINN, op. cit., p. 182.
[7] Ibidem, p. 172.
[8] Para Domhoff, “a ‘classe governante’ é uma classe social superior que possui uma parte desproporcionada da riqueza da nação, recebe uma quantidade desproporcionada dos lucros anuais de um país e proporciona um número desproporcionado de seus membros às instituições dirigentes e aos grupos que decidem os destinos do país.” DOMHOFF, G. William. Quién gobierna Estados Unidos? 16. ed. México: Siglo XXI Editores, 1988, p. 11.
[9] Ibidem, p. 124-125.
[10] MILLS, C. Wright. La élite del poder. México: Fondo de Cultura Económica. 1987, p. 14.