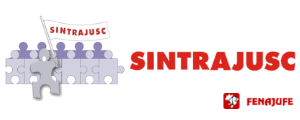A legitimidade, o valor social de uma greve é produzida por aquilo que é possível comunicar sobre a greve. É assim com todo conflito social. Essa conclusão prévia é perturbadora porque ainda não diz nada de concreto
Renato Bigliazzi e
Ricardo Lourenço Filho*
Em uma sociedade feita de comunicação, a importância da versão pode ser maior que a do fato. Isso fica claro quando observamos os processos conflituosos que envolvem as negociações coletivas a respeito de salários e condições de trabalho. Quando se trata de uma greve, por exemplo, é raro que o cidadão comum conheça quais são as reais demandas da categoria envolvida.
Gostaríamos de explorar as conseqüências dessa distância entre versão e fato, uma distância artificialmente produzida, diga-se de passagem, já que cidadão e trabalhadores em greve normalmente compartilham das mesmas condições de vida, preocupações e sonhos.
A greve é um dos principais instrumentos de pressão de que dispõem os trabalhadores para verem atendidas suas necessidades, suas reivindicações, seus anseios. É uma manifestação coletiva da força dos trabalhadores. Justamente por ser fenômeno coletivo o êxito de uma greve depende da adesão que o movimento é capaz de produzir.
Isso se reflete na legitimidade da paralisação. Uma greve legítima não é legítima apenas porque um tribunal a declara. A legitimidade, o valor social de uma greve é produzida por aquilo que é possível comunicar sobre a greve. É assim com todo conflito social. Se tomarmos como juiz a opinião pública, a legitimidade de uma determinada reivindicação depende tanto do conteúdo (o que realmente se deseja) quanto da forma (como é reivindicada).
Essa conclusão prévia é perturbadora porque ainda não diz nada de concreto. Se as coisas são realmente assim, então é possível que existam manifestações absolutamente ilegítimas que podem ser descritas como pleitos legítimos, e vice-versa. Não acreditamos que tudo seja o que parece ser, e tampouco que se possa dourar a pílula a ponto de mascarar a realidade.
Nosso palpite inicial é o de que a chance de sucesso desse jogo com a legitimidade depende principalmente de oportunidades que estão distribuídas de maneira desigual. Aqui, nos referimos ao direito (e não ao poder) de produzir versões sobre determinado conflito coletivo, do tipo que normalmente pode conduzir a uma paralisação do trabalho.
Vejamos, por exemplo, o caso das greves em atividades relacionadas a necessidades mais imediatas da população. Quando serviços como polícia e transportes são paralisados por força de alguma disputa sobre direitos trabalhistas, o fato é que a versão dos trabalhadores dificilmente consegue chegar a quem realmente interessa, quem realmente pode ser considerado como opinião pública.
Ilustrativa dessa situação foi o lamentável episódio ocorrido durante a greve dos policiais civis do estado de São Paulo, na segunda metade de 2008. O Observatório do Direito à Comunicação (de 13/11/08) noticiou que um juiz da Vara de Fazenda Pública do estado impediu a veiculação, na Rede Globo, de um comercial organizado pelos grevistas. No comercial, os policiais batiam à porta do governador, mas não eram atendidos. Um dos fundamentos da decisão judicial foi o “temor” e a “insegurança” que poderia causar à população.
Aqui, um outro aspecto do direito de greve precisa ser esclarecido. Como movimento de pressão e de manifestação de força por parte dos trabalhadores, a greve incomoda. E necessariamente deve ser assim. A paralisação deve causar transtornos. Ela cria obstáculos aos interesses do empregador (que, muitas vezes, é o Estado). Mas também incomoda a sociedade.
Uma paralisação dos bancários, por exemplo, pode impedir que um cidadão pague suas contas diretamente no banco – ele terá que procurar outros meios, ou negociar uma prorrogação de prazo com seu credor. Uma greve no sistema de transporte coletivo provavelmente fará com que muitas pessoas cheguem atrasadas a seus compromissos. Não há nada de errado nisso. Esse incômodo é inerente e indispensável ao exercício do direito de greve constitucionalmente assegurado.
É claro que nas atividades consideradas por lei como “essenciais”, as partes envolvidas devem manter a prestação de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da população. Entretanto, a manutenção dessa quantidade “mínima” de serviços não pode reduzir o direito de greve.
Decisões judiciais que, supostamente considerando a essencialidade do serviço, determinam a manutenção de quantitativos elevados de trabalhadores em atividade, de modo a neutralizar os efeitos da paralisação, ignoram a Constituição e impedem o exercício regular da greve. Falta-lhes esta percepção: a greve causa incômodos, mesmo nas atividades essenciais.
E é exatamente por esse motivo, ou seja, pelo desconforto gerado pela paralisação, que o direito de greve deve ser acompanhado do direito à comunicação. A lei geral de greve (Lei 7.783/89) assegura aos grevistas o direito à livre divulgação do movimento. A previsão legal reforça essa prerrogativa, mas seria mesmo dispensável diante de uma leitura constitucionalmente adequada dos dispositivos que garantem a liberdade de expressão e o próprio direito de greve.
Em todo caso, a possibilidade de comunicação e divulgação das reivindicações dos trabalhadores é fundamental para o êxito da paralisação. Dessa forma, por mais que a lei garanta o direito de greve a muitas atividades consideradas essenciais, o sucesso (pelo menos no que se refere à legitimidade) de uma mobilização no ambiente de trabalho vai depender da capacidade de produzir interpretações, de disseminar informações, enfim, de comunicar sobre as motivações do movimento.
Nessa medida, a legitimidade da greve – e do incômodo que ela produz – depende da adesão, não apenas dos trabalhadores, mas, com freqüência, da própria opinião pública. Daí a importância de os grevistas contarem com instrumentos para a divulgação de suas idéias, necessidades e reivindicações. Entre os meios para manifestação do movimento estão a internet, o rádio, os jornais e a própria televisão. Trata-se, portanto, do reconhecimento da capacidade de comunicação dos trabalhadores.
A grande inovação nesse ponto nos parece ser a descrição dessa capacidade de comunicação como uma necessidade jurídica. Quer dizer, percebemos que é importante que o direito do trabalho possa garantir a igualdade de condições na comunicação sobre um conflito no ambiente de trabalho. Isso vale para os conflitos coletivos (de que estamos tratando aqui) e para os conflitos individuais.
E essa igualdade não pode ser assegurada apenas como uma formalidade, mesmo que seja uma formalidade processual. Não. É preciso que a capacidade de gerar comunicação seja protegida também no âmbito social, “fora” dos autos, na produção social de notícias, comentários e descrições.
Pensamos, por exemplo, na disseminação do direito de antena como instrumento da negociação coletiva. A proposta seria assegurar aos trabalhadores espaço nos meios de comunicação para expor a sua versão a respeito do conflito. Quando se trata de uma atividade essencial, é igualmente fundamental que o usuário, digamos, de um serviço de ônibus, saiba não apenas que pode chegar atrasado ao seu compromisso, mas também possa formar a sua opinião a respeito da necessidade ou não do movimento grevista que provocou aquela conseqüência indesejada para o indivíduo.
Acreditamos que a garantia desse direito pode ser uma contrapartida à possibilidade de coberturas jornalísticas que desvalorizem o direito coletivo à greve, diminuindo-o, como é a tática usual, a uma manifestação egoística e ilegal de determinados membros de uma categoria. Atribuir aos trabalhadores a capacidade de comunicação do movimento paredista significa fornecer-lhes os meios para o exercício pleno do direito de greve, de modo que também a sociedade possa reconhecer a paralisação como o exercício de um direito.
(*) Mestres em Direito (UnB) e pesquisadores do grupo Sociedade Tempo e Direito (STD).
Fonte: Observatório à Comunicação